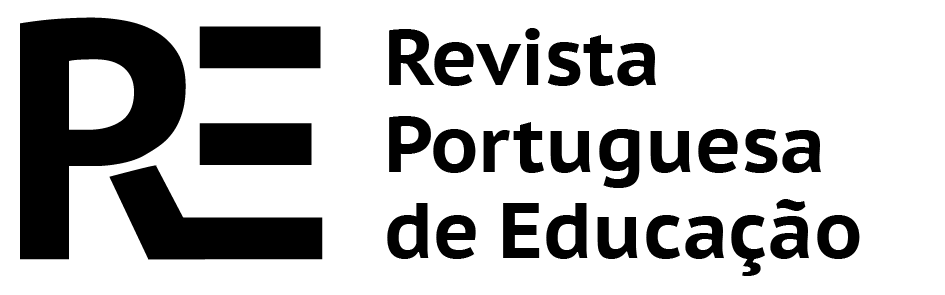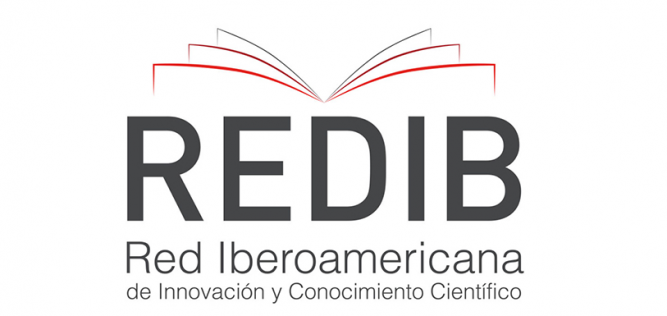Como ser um bom aluno? Dos modelos de escola aos pontos de vista das crianças
DOI:
https://doi.org/10.21814/rpe.21531Palavras-chave:
Performatividade, Excelência escolar, Bom aluno, Perspetivas das crianças, 1.º CicloResumo
Resumo
A apologia da performatividade e da excelência, resultante dos novos modos de regulação dos sistemas educativos, parece estar a penetrar em todos os níveis de escolaridade. Centrado na análise do ofício de aluno do 1.º ciclo, e tendo por base a hipótese de que estará em curso uma reconfiguração do modelo da escola primária assente na performatividade-competitividade, este texto analisa as perspetivas que crianças, oriundas de contextos geográficos, escolares e socioeconómicos distintos, possuem sobre o que é ser um bom aluno. A pesquisa teve por base a análise de conteúdo de entrevistas semidiretivas realizadas a 61 crianças do 3.º ano de escolaridade, em 2017/18. Os pontos de vista das crianças evidenciam duas dimensões essenciais das práticas escolares: a dimensão do poder e a dimensão cognitiva. As suas referências à ordem escolar deixam perceber como a estrutura do modelo de escola tradicional-industrial subsiste na atualidade. No entanto, é a componente das aprendizagens a que é mais valorizada nos seus discursos. As condições por elas enunciadas para participarem nos processos de aprendizagem dão conta de dois tipos de conceções sobre a excelência escolar. Uma primeira que enaltece os dons individuais, nomeadamente a inteligência, presente sobretudo entre as crianças com uma proveniência social menos escolarizada e menor desempenho escolar. Uma segunda conceção, próxima do modelo escolar performativo-competitivo, surge ancorada no trabalho, esforço, dedicação e superação individual, e está sobretudo presente nas crianças oriundas de famílias mais escolarizadas, com muito bom aproveitamento escolar.
A pesquisa teve por base a análise de conteúdo de entrevistas semi-diretivas, realizadas a 61 crianças do 3º ano de escolaridade, em 2017/18.
Os pontos de vista das crianças evidenciam duas dimensões essenciais das práticas escolares, a dimensão do poder e a dimensão cognitiva. As suas referências à ordem escolar deixam perceber como a estrutura do modelo de escola tradicional-industrial subsiste na actualidade. No entanto, é a componente das aprendizagens a que é mais valorizada nos seus discursos. As condições por elas enunciadas para participarem nos processos de aprendizagem dão conta de dois tipos de concepções sobre a excelência escolar. Uma primeira que enaltece os dons individuais, nomeadamente a inteligência, presente sobretudo entre as crianças com uma proveniência social menos escolarizada e menor desempenho escolar. Uma segunda conceção, próxima do modelo escolar performativo-competitivo, surge ancorada no trabalho, esforço, dedicação e superação individual, e está sobretudo presente nas crianças oriundas de famílias mais escolarizadas, com muito bom aproveitamento escolar.
Palavras-chave: Performatividade - Excelência escolar - Bom aluno - Perspetivas das crianças - 1º Ciclo
Downloads
Referências
Afonso, A. J. (2012). Para uma concetualização alternativa de accountability em educação. Educação & Sociedade, 33(119), 471-484. https://doi.org/10.1590/S0101-73302012000200008
Afonso, A. J. (2014). Questões, objetos e perspetivas em avaliação. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, 19(2), 487-507. https://doi.org/10.1590/S1414-40772014000200013
Antunes, F. (2004). Globalização, europeização e especificidade educativa portuguesa: A estruturação global de uma inovação nacional. Revista Crítica de Ciências Sociais, 70, 101-125. https://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/70/RCCS70-Fatima%20Antunes-101-125.pdf
Antunes, F., & Sá, V. (2010). Públicos escolares e regulação da educação. Fundação Manuel Leão.
Ball, S. J. (2000). Performativities and fabrications in the education economy: Towards the performativity society?. Australian Educational Researcher, 27(2), 1-23. https://doi.org/10.1007/BF03219719
Bardin, L. (2009). Análise de conteúdo. Ed. 70.
Bourdieu, P. (1983). Questões de sociologia. Marco Zero.
Bradbury A. (2013). Education policy and the ‘ideal learner’: Producing recognisable learner-subjects through early years assessment. British Journal of Sociology of Education, 34(1), 1-19. https://doi.org/10.1080/01425692.2012.692049
Bradbury, A. (2019). Making little neo-liberals: The production of ideal child/learner subjectivities in primary school through choice, self-improvement and ‘growth mindsets’. Power and Education, 11(3), 309-326. https://doi.org/10.1177/1757743818816336
Candeias, A. (2009). Educação, stado e mercado no século XX. Colibri.
Carvalho, L. M. (2011). O espelho do perito. Inquéritos internacionais, conhecimento e política em educação – O caso do PISA. Fundação Manuel Leão.
Diogo, A. M. (2016). Trajetórias escolares e sentidos atribuídos à escola entre a tradição e a modernidade: Perfis de jovens açorianos. Revista Portuguesa de Educação, 29(2), 329-357. https://doi.org/10.21814/rpe.7916
Eurydice. (2016). Assuring quality in education: Policies and approaches to school evaluation in Europe. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2797/678
Ferreira, M., & Tomás, C. (2017). A educação de infância em tempos de transição paradigmática: Uma viagem por discursos políticos e práticas pedagógicas em Portugal. Cadernos de Educação de Infância, 112, 19-33. http://hdl.handle.net/10400.21/8258
Formosinho, J., & Machado, J. (2018). Do ensino primário à educação básica: A progressiva extensão da lógica uniformizadora (1997-2018). Medi@ções, 6(1), 5-29. https://mediacoes.ese.ips.pt/index.php/mediacoesonline/article/view/199
Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge. Routledge
Foucault, M. (1991). Discipline and punish: The birth of the prison. Penguin.
Garnier, P. (2016). Sociologie de l’école maternelle. PUF.
Grácio, S. (1997). Dinâmicas da escolarização e das oportunidades individuais. Educa.
Hall, R., & Pulsford, M. (2019). Neoliberalism and primary education: Impacts of neoliberal policy on the lived experiences of primary school communities. Power and Education, 11(3), 241-251. https://doi.org/10.1177/1757743819877344
Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
Kellerhals, J., & Montandon C. (1991). Les stratégies éducatives des familles. Delachaux et Niestle.
Lahire, B. (2000). Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de l'échec scolaire’ à l’école primaire. Presses Universitaires de Lyon.
Lima, L. (2019). Uma pedagogia contra o outro? Competitividade e emulação. Educação & Sociedade, 40, e0218952/1-18. https://doi.org/10.1590/ES0101-73302019218952
Marchi, R. C. (2010). O “ofício de aluno” e o “ofício de criança”: Articulações entre a sociologia da educação e a sociologia da infância. Revista Portuguesa de Educação, 23(1), 183-202. https://doi.org/10.21814/rpe.13983
Maroy, C. (1997). A análise qualitativa de entrevistas. In L. Albarello, E. Digneffe, J. P. Hiernaux, C. Maroy, D. Ruquoy, & P. Saint-Georges (Eds.), Práticas e métodos de investigação em ciências sociais (pp. 117-155). Gradiva.
Maroy, C., & Voisin, A. (2013). As transformações recentes das políticas de accountability na educação: Desafios e incidências das ferramentas de ação pública. Educação & Sociedade, 34(124), 881-901. https://doi.org/10.1590/S0101-73302013000300012
Moss, P., Dahlberg, G., Grieshaber, S., Mantovani, S., May, H., Pence, A., Rayna, S., Swadener, B. B., & Vandenbroeck, M. (2016). The Organisation for Economic Co-operation and Development’s international early learning study: Opening for debate and contestation. Contemporary Issues in Early Childhood, 17(3), 343-351. https://doi.org/10.1177/1463949116661126
Neto-Mendes, A., & Gouveia, A. (2017). Políticas educativas e a construção da excelência: Um olhar sobre os fatores políticos e sociais. In L. L. Torres & J. A. Palhares (Org.), A excelência académica na escola pública portuguesa (pp. 109-127). Fundação Manuel Leão.
Perrenoud, P. (1984). La fabrication de l'excellence scolaire: Du curriculum aux pratiques d'évaluation. Droz.
Perrenoud, P. (1995). Ofício de aluno e sentido do trabalho escolar. Porto Editora.
Perrenoud, P. (1999). Avaliação. Da excelência à regulação das aprendizagens. Entre duas lógicas. ARTMED.
Perrenoud, P. (2003). Sucesso na escola: Só o currículo, nada mais que o currículo! Cadernos de Pesquisa, 119, 9-27. https://doi.org/10.1590/S0100-15742003000200001
Quaresma, L. (2017). A excelência académica em liceus públicos emblemáticos do Chile: Perspectivas à luz do olhar de directores e professores. In L. L. Torres & J. A. Palhares (Org..), A excelência académica na escola pública portuguesa (pp. 51-72). Fundação Manuel Leão.
Quaresma, M. L., & Torres, L. L. (2017). Performatividade e distinções escolares no contexto da escola pública: Tendências internacionais e especificidades do contexto português. Análise Social, 52(224), 560-582. https://revistas.rcaap.pt/analisesocial/article/view/22444
Ribeiro, A., & Gouveia, A. (2017). Agendas políticas e tendências globais da excelência escolar. In L. L. Torres & J. A. Palhares (Org.), A excelência académica na escola pública portuguesa (pp. 73-86). Fundação Manuel Leão.
Sarmento, M. (2003). As culturas da infância nas encruzilhadas da segunda modernidade. In M. Sarmento & A. B. Cerisara (Orgs.), Crianças e miúdos: Perspectivas sociopedagógicas da infância e educação (pp. 9-34). ASA.
Sarmento, M. (2011). A reinvenção do ofício de criança e de aluno. Atos de Pesquisa em Educação, 6(3), p. 581-602. http://dx.doi.org/10.7867/1809-0354.2011v6n3p581-602
Seabra, T. (1999). Educação nas famílias –Etnicidade e classes sociais. IIE.
Sellar, S., & Lingard, B. (2014). The OECD and the expansion of PISA: New global modes of governance in education. British Educational Research Journal, 40(6), 917-936. https://doi.org/10.1002/berj.3120
Sibilia, P. (2012). Redes ou paredes. A escola em tempos de dispersão. Contraponto.
Sirota, R. (1993). Note de synthèse – Le métier d’élève. Revue Française de Pédagogie, 104, 85-108. https://doi.org/10.3406/rfp.1993.1291
Thompson, G. (2010). Acting, accidents and performativity: Challenging the hegemonic good student in secondary schools. British Journal of Sociology of Education, 31(4), 413-430. https://doi.org/10.1080/01425692.2010.484919
Torres, L. L., & Palhares, J. A. (Org.). (2017). A excelência académica na escola pública portuguesa. Fundação Manuel Leão.
Torres, L. L., Palhares, J., & Borges, G. (2017). A excelência académica na escola pública portuguesa: Tendências e especificidades. In L. L. Torres & J. A. Palhares (Org.), A excelência académica na escola pública portuguesa (pp. 87-106). Fundação Manuel Leão.
Verger, A., & Normand, R. (2015). Nueva gestión pública y educación: Elementos teóricos y conceptuales para el estudio de un modelo de reforma educativa global. Educação & Sociedade, 36(132), 599-622. https://doi.org/10.1590/ES0101-73302015152799
Vincent, G., Lahire, B., & Thin, D. (1994). Sur l’histoire et la théorie de la forme scolaire. In G. Vincent (Ed.), L’éducation prisonnière de la forme scolaire? (pp. 11-47). Presses Universitaires de Lyon.
Youdell, D. (2006). Impossible bodies, impossible selves: Exclusions and student subjectivities. Springer.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Secção
Licença
Direitos de Autor (c) 2022 Revista Portuguesa de Educação

Este trabalho encontra-se publicado com a Licença Internacional Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0.
1. Autores conservam os direitos de autor e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution 4.0 CC-BY-SA que permite a partilha do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista;
2. Autores e autoras têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: depositar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista;
3. Autores e autoras têm permissão e são estimulado/as a publicar e distribuir o seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal), já que isso pode aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons - Atribuição Compartilhamento pela mesma Licença Internacional 4.0