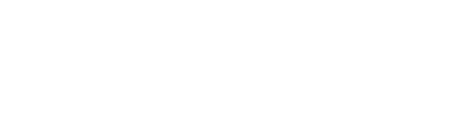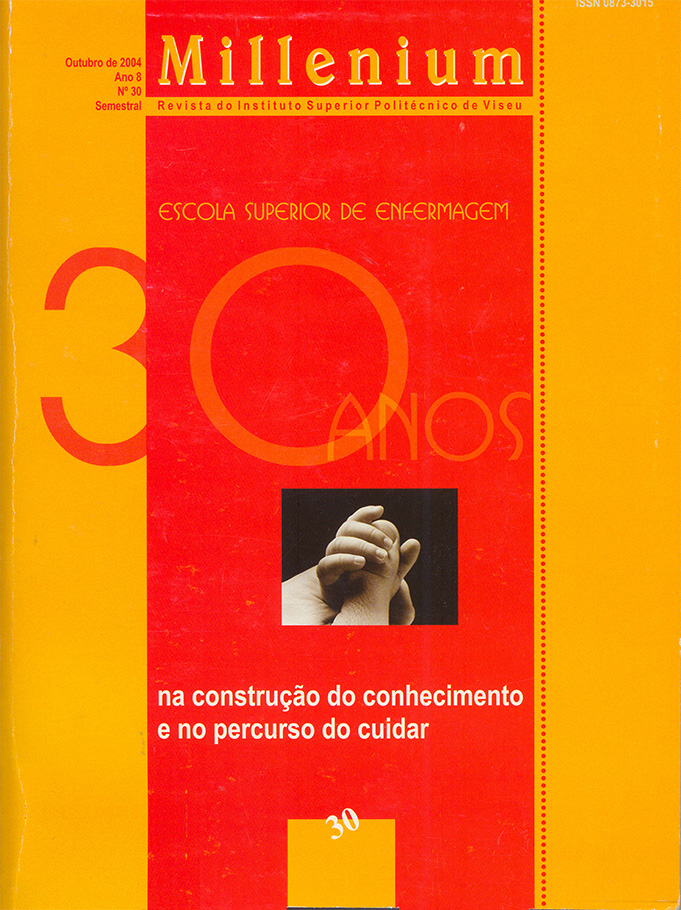A família com filhos com necessidades educativas especiais
Resumo
A família tem sido conotada com uma multiplicidade de imagens que torna a definição do conceito imprecisa no tempo e no espaço. A par da família-abrigo, lugar de intimidade, afectividade, autenticidade, privacidade e solidariedade, surgem imagens da família como espaço de opressão, egoísmo, obrigação e violência. Esta multiplicidade de conotações é o resultado da combinação e dos equilíbrios de diferentes factores: sócio-ideológicos, como o tipo de casamento, o divórcio, a residência, a herança, a autoridade, a transmissão de saber; económicos, como a divisão do trabalho, dos meios de produção, o tipo de património; políticos, como o poder, as hierarquias, as facções; biológicos, como a saúde e a fertilidade; ambientais, como os recursos e as calamidades (Slepoj, 2000).
A família, espaço educativo por excelência, é vulgarmente considerada o núcleo central de individualização e socialização, no qual se vive uma circularidade permanente de emoções e afectos positivos e negativos entre todos os seus elementos.
Lugar em que várias pessoas (com relação de parentesco, afinidade, afectividade, coabitação ou unicidade de orçamento) se encontram e convivem. A família é também um lugar de grande afecto, genuinidade, confidencialidade e solidariedade, portanto, um espaço privilegiado de construção social da realidade em que, através das interacções entre os seus membros, os factos do quotidiano individual recebem o seu significado e os "ligam" pelo sentimento de pertença àquela e não a outra família.
Downloads
Referências
ALARCÃO, M. (2000). (Des) Equilíbrios Familiares. Coimbra: Quarteto Editora.
AMARALIA, M. (1986). Psicologia do Excepcional. São Paulo. Editora Pedagógica e Universitária.
ANDOLFI, M. (1981). A terapia familiar. Lisboa, Editorial Vega.
APARÍCIO, G. (1998). Adolescentes Diferentes? Uma perspectiva baseada no autoconceito. Dissertação de Mestrado em Ciências de Enfermagem – Pediatria, apresentada à Universidade do Porto, Faculdade de Medicina.
BENOIT, J. ; MALAREWILZ, J. ; BEAUJEAN, J. ; COLAS, Y. ; KANNAS, S.
(1988). Dictionnaire Clinique des Thérapies familiales Systémiques. Paris: ESF.
BERNDT, T. e HOYLE, S. (1985). Stability, and change in childhood and adolescent friendships. Development psychology, 22, 433-439.
BERTALANFY,L.(1972). Théorie génèrale des systèmes. Paris: Dunod.
BLOSS, P. (1985). A Adolescência, uma Interpretação Psicanalítica. São Paulo: Fontes Editora.
BOTELHO, T. (1994). Reacção dos Pais a um filho Nascido Diferente. (5), Integrar. Lisboa: 5-8.
BOWEN, M. (1988). La différenciation du soi, les triangles et les systèmes emotifs familiaux. Paris: ESF.
CLAES, M. (1990). Os Problemas da Adolescência. Lisboa: Verbo.
CORREIA, L. (1997). Alunos com Necessidades Educativas Especiais nas Classes Regulares. Porto: Porto Editora.
CUISENIER, J. (1977). Le Cycle de Vie Familiale dans les Sociétés Europiénes. Paris: Moruton e Co.
DAVIES, D.; FERNANDES, J. ; SOARES, J. ; LOURENÇO, L. ; COSTA, L. ;
VILAS-BOAS, M. ; VILHENA, M. ; OLIVEIRA, M. ; DIAS, M. ; SILVA, P. ;
MARQUES, R. ; LIMA, R. (1989). As Escolas e as Famílias em Portugal: Realidade e Perspectivas. Lisboa: Livros Horizonte.
ELKIND, D. (1978). The Child's Reality: Three Development Themes. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.
ERIKSON, E. (1972). Identidade, juventude e crise. Rio de Janeiro: Zahar.
FERNANDES, E. (1991). Psicopedagogia de la Adolescencia. Madrid: Narcea, S.A.
FRUDE, N. (1991). Uderstanding Family Problems. London: John Wiley e Sons.
GAMEIRO, J. (1992). Voando sobre a psiquiatria. Análise epistemológica da psiquiatria contemporânea. Porto: Edições Afrontamento.
GAMMER, C.; CABIÉ, M. (1999). Adolescência e Crise Familiar. Lisboa: CLIMEPSI.
GÓNGORA, J. (1996). Familias com Personas Discapacitadas: Características y Fórmulas de Intervención. Barcelona. Ed. Paidós.
GONZÁLEZ, E. (1996). Necesidades Educatives Especiales: Intervención
Psicoeducativa. Madrid: Editorial CCS. 196-217.
GROSSMAN, H. (1983). Classification in mental retardation. Whashington: DC: American Association on Mental Retardation.
HALEY, J. (1991). Leaving Home: quand le jeune adulte quitte as famille. Paris: ESF
McGILL, D e PEARCE, J. (1982). British Families. In M. McGoldrick, J. Pearce e J. Giordano (Eds), Ethnicy and Family Therapy. New York: Guilford Press.
McGLODRICK, M.; CARTER, B. (1995). As Mudanças no Ciclo de Vida Familiar. Porto Alegre: Artes Médicas.
McGOLDRICK, M.; CARTER, E. (1982). The Family Life Cicle, In WALSH, F. (ed), Normal Family Processes. N.Y., The Guilford Press, cap 7, 167-195.
MINUCHIN, S. (1979). Familles en Thérapie. Paris, J.P. Delarge (1991). Calidoscopio familiar imágenes de violencia e coración. Barcelona: Ed. Paidos.
MINUCHIN, S. (1990). Famílias, Funcionamento e Tratamento. Porto Alegre: Artes Médicas.
MINUCHIN, S.; FISHMMAN, C. (1990). Técnicas de Terapia Familiar. Porto Alegre: Artes Médicas.
MOITOZA, E. (1982). Portugueses Families. In M. McGoldrick, J. Pearce e J. Giordano (Eds), Ethnicy and Family Therapy. New York: Guilford Press.
MYERS, D. (1999). Introdução à Psicologia Geral. Rio de Janeiro: LTC. S.A.
NICHOLS, M.(1984). Family Therapy Concepts and Methods. New York: Gardner Press.
NIELSEN, L. (1999). Necessidades Educativas Especiais na Sala de Aulas: Um Guia para Professores. Porto: Porto Editora.
NOCK, S: (1982). The Life - Cycle Approach to Family Analysis. In WOLMAN, B. et al Handbook of Developmental Psychology. Prentice-Hall Inc., New Jersey: cap. 35, 636-651.
OLIVEIRA, J. (1994). Psicologia da Educação Familiar. Coimbra: Livraria Almedina.
OSORIO, L. (1996). Família Hoje. Porto Alegre: Artes Médicas.
PEREIRA, F. (1996). As Representações dos Professores de Educação Especial e as Necessidades das Famílias. (8), S.N.R.
PETERSON, M.; LeROY, B., FIELD, S.; WOOD, P.(1992). Community-referenced learning in inclusive schools: effective curriculum for all students. In S. Stainback e W. Stainback (Eds), Curriculum considerations in inclusive classrooms: Facilitating learning for all students (p. 207-227). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
PIAGET, J. (1971). Adolescência e a maturidade. Revista Portuguesa de Pedagogia, n.º 1, V. Seis estudos de Evolução Intelectual Entre a Adolescência Psicologia.
POWELL, T. ; OGLE, P. (1991). El Niño Especial: El Papel de los Hermanos en su Educación. Barcelona: Editorial Norma.
RELVAS, A.(1996). O ciclo vital da família, perspectiva sistémica. Porto: Edições Afrontamento.
REY, A. (1980). Retraso Mental y Primeiros Exercicios. Madrid: Educatice Editorial.
ROSENBERG, M. (1979). Conceiving the Self. New York: Basic Books.
SAMPAIO,D. (1994). Inventem-se Novos Pais. Lisboa: Caminho.
SAMPAIO,D. (1996). Ninguém Morre Sozinho: o adolescente e o suicídio. 6ª ed. Lisboa: Caminho Colecção Universitária.
SAMPAIO,D. (1997). A Cinza do Tempo. Lisboa: Editorial Caminho.
SANDBERG, S. (1993). Aspectos Psicológicos da Doença Crónica na Criança. Saúde Infantil. Hospital Pediátrico de Coimbra: Set. V: 135-147.
SATIR, V. (1997). Nuevas relaciones humanas en el nucleo familiar. 8 ed.; México: Pax Mexico.
SAYER, J. (1987). Secondary Schoolsfor all? Strategies for Special Needs: Special Needs. In Ordinary Schools. London: Cassel.
SLEPOJ, V. (2000). As Relações de Família. Lisboa: Editorial Presença.
SPRINTHALL, N. A.; COLLINS, W. A. (1994).Psicologia do Adolescente- Uma abordagem desenvolvimentista. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
STEINBERG, L. (1986). Latchkey Children and susceptibility to peer pressure: na ecological analysis. Developmental Psychology, 22,433-439.
SULLIVAN, H. (1953). The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York: Norton.
TURNBULL, A. ; SUMMERS, J. e BROTHERSON, M. (1986). Family Life Cycle. Baltimor: Paul H. Brookes.
TURNBULL, A.; TURNBULL, H. (1986). Families, Profissionals, and Exceptionality. A Special Partnership. Columbus, OH: Merril Publishing Company.
VAYER, P.; ROCIN, C. (1992). Integração da Criança Deficiente na Classe. Lisboa: Instituto Piaget.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Secção
Licença
Os autores que submetem propostas para esta revista concordam com os seguintes termos:
a) Os artigos são publicados segundo a licença Licença Creative Commons (CC BY 4.0), conformando regime open-access, sem qualquer custo para o autor ou para o leitor;
b) Os autores conservam os direitos de autor e concedem à revista o direito de primeira publicação, permitindo-se a partilha livre do trabalho, desde que seja corretamente atribuída a autoria e publicação inicial nesta revista.
c) Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
d) Os autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir o seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publica
Documentos necessários à submissão
Template do artigo (formato editável)